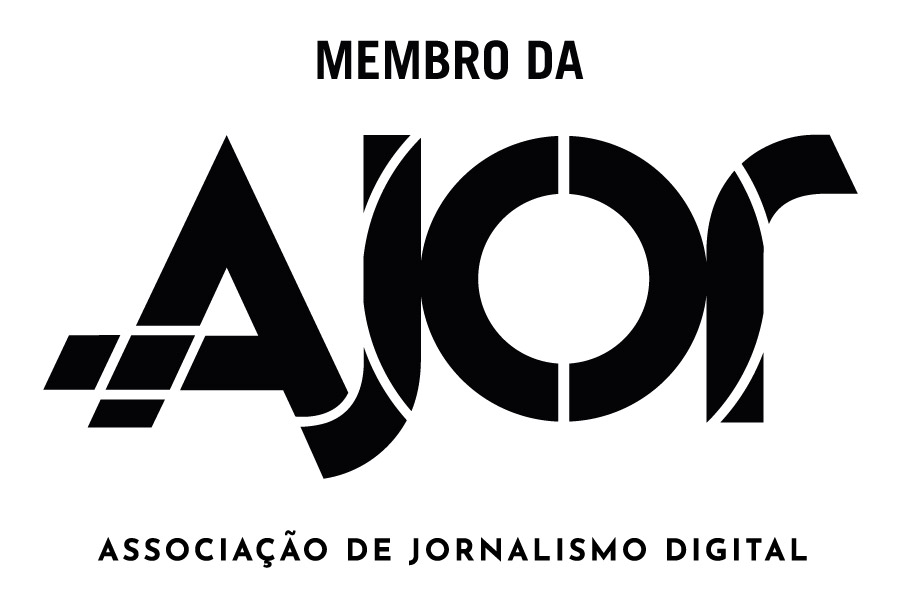Se a concorrência é inerente ao mercado, os mecanismos para preservá-la podem, ironicamente, provocar distorções neste mesmo mercado.
Sendo do Direito o papel de formular propostas de intervenção aptas a preservar a eficiência das livres trocas, questiona-se, não raras vezes, a legitimidade e efetiva utilidade de tais mecanismos. Entre a abordagem intervencionista e o fluxo natural dos mercados haveria, pois, um equilíbrio possível?
Sabe-se que a Constituição Federal reserva o Título VII à ordem econômica e financeira e nele traça seus contornos, remontando ao valor social do trabalho e da livre iniciativa, fundamentos da República já previstos no art. 1º, IV. Assim dispõe o constituinte no art. 170.
O constituinte adotou um modelo “intermediário” no trato da matéria, o qual, em tese, buscaria conciliar a liberdade de iniciativa com interesses sociais subjacentes, como a defesa do consumidor.
Deste modo, privilegiou o desempenho da atividade econômica pela iniciativa privada enquanto, por outro lado, incumbiu ao Estado a atividade de planejamento, fiscalização e regulação desta. É o que se depreende, sobretudo, da leitura do art. 173 da Constituição:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
Tratando especificamente do direito antitruste, a Constituição prossegue, em seu art. 173, §4º, disciplinando que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. A ideia, portanto, é de corrigir as chamadas “falhas de mercado”, mormente no que tange à tutela da concorrência.
Por mais positiva que pareça tal atividade, é de se chamar atenção para o fato de que a atuação estatal nesta seara necessita, imperiosamente, de um ótimo juízo de custo-benefício. Em verdade, as medidas interventivas de que pode se valer o Estado – que vão desde a regulação até a exploração direta de atividade econômica, nos termos dos arts. 173 e 174 da Constituição –, quando implementadas, podem provocar distorções ainda maiores, criando um ambiente artificial de negócios com consequências nocivas, a exemplo do risco de captura das agências e o aumento dos custos de transação.
No primeiro fenômeno, a entidade reguladora passa a servir como meio para assegurar o interesse particular dos players (agentes) do segmento regulado, servindo a propósitos opostos àqueles pelos quais, em tese, foi criada; já no segundo, aumentam-se “custos definidos como aqueles a que estão sujeitas todas as operações de um sistema econômico” (NORTH, 2006, p.10).
Para o autor, estes surgem “devido ao custo de se mensurar as múltiplas dimensões valorizadas incluídas na transação (geralmente os custos da informação) e devido ainda aos custos da execução contratual”, completando que “a informação não é só cara como também incompleta, e o cumprimento de contratos não é só caro como imperfeito” (NORTH, 2006, p.34).
Não obstante, tais intervenções tendem a aumentar as barreiras de entrada em um setor e acentuar sobremaneira a dita “imperfeição” da concorrência. Custos iniciais, investimentos irrecuperáveis (sunk costs), altos custos de transação, presença de externalidades, tarifas e tributos são, em sua maior parte, determinados pelo próprio Estado, provocando perdas de eficiência nos mercados – o chamado deadweight loss ou perda de peso morto.
No caso da incidência de um tributo sobre a atividade, por exemplo, perde-se um valor não transferido para os consumidores, produtores ou mesmo para o Estado, tendo em vista o consumo de tais recursos em decorrência da burocracia oriunda do próprio processo de cobrança e recolhimento. Além disso, ainda existe a diminuição na quantidade demandada e, consequentemente, ofertada, pelo incremento no preço praticado para oferecer determinado produto ou serviço, dada a elasticidade da oferta e demanda em relação ao preço.
As barreiras regulatórias e a própria proteção antitruste, portanto, podem ir em sentido contrário à livre concorrência, pois, para além das questões já colocadas, a própria prática de lobby é característica não do sistema de livres trocas, mas da própria estrutura de Estado. Tratando deste ponto, salienta Ramos (2015, p. 198-199):
[…] as empresas reguladas conseguem convencer facilmente o regulador a aprovar barreiras regulatórias porque seus interesses, que são muito mais específicos e organizados, tendem a prevalecer sempre sobre os interesses dos consumidores, que são normalmente difusos e, consequentemente, possuem dificuldade em obter uma mobilização organizada em seu favor. E, no Brasil, há ainda um agravante: quem poderia agir em defesa desses interesses difusos, como o Ministério Público e as associações consumeristas, normalmente o fazem pedindo mais intervenção, e não mais liberdade econômica. Assim, o “mercado político” da regulação acaba sendo dominado pelas empresas reguladas, que pautam sua atuação em prol da regulação sempre com o objetivo de restringir ou impedir a concorrência nos setores regulados.
Desse modo, considerando o direito posto sob uma análise econômica, que confere maior ênfase às consequências geradas pela norma jurídica, é inegável a necessidade de se questionar e ir além dos postulados teóricos da doutrina do Direito Concorrencial para se vislumbrar o efeito prático nas relações sociais e de mercado. Se é certo que, não raras vezes, a intervenção produz efeitos colaterais, também é certo que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose.
*Leia mais em CAVALCANTI, Mariana Oliveira & CATÃO, Adrualdo. (2017). (Auto)regulação do mercado, direito concorrencial e análise econômica do direito: é possível uma concorrência perfeita?. Direito E Desenvolvimento, 8(1), 179-196. https://doi.org/10.25246/direitoedesenvolvimento.v8i1.419
Mariana Melo é mestra em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Advogada licenciada. Pesquisadora no GPPJ – Grupo de Pesquisa em Pragmatismo Jurídico, Teorias da Justiça e Direitos Humanos.