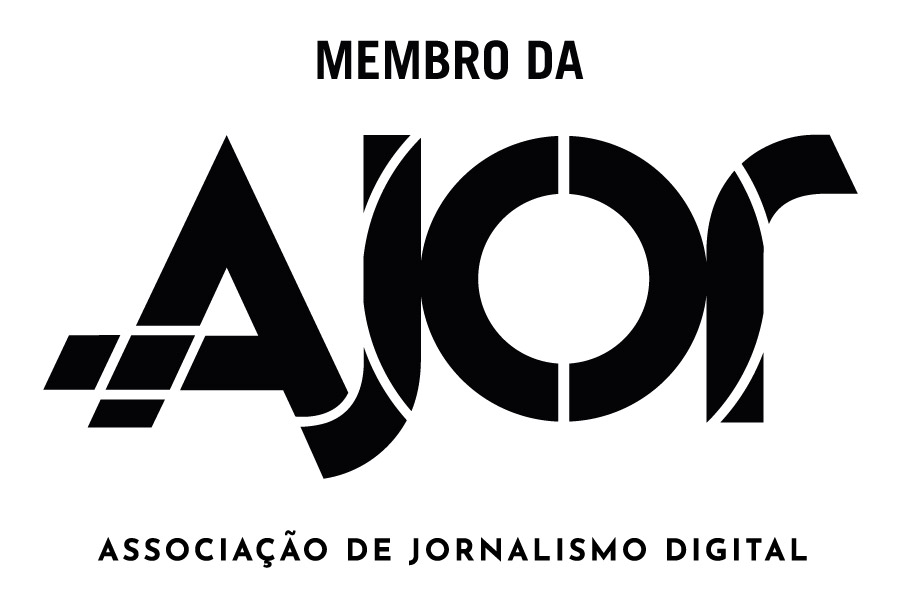“A Joan é péssima” é o primeiro episódio da sexta temporada de Black Mirror, escrita por Charlie Brooker. Esse episódio não vem em qualquer momento: a temporada é lançada em meio a greve dos roteiristas dos Estados Unidos.
E nessa disputa laboral a questão do streaming é central, bem como as consequentes modificações nas estruturas históricas de Hollywood. Isso sem falar nas possíveis ameaças da inteligência artificial ao trabalho dos roteiristas, especialmente após a febre do ChatGPT.
Charlie Brooker está visivelmente do lado dos roteiristas. E não somente em razão do episódio: ele esteve em uma marcha de solidariedade à greve.
Charlie também revelou que o episódio foi inspirado nos eventos reais de Elizabeth Holmes – a ex-CEO da Theranos, uma startup com sede no Vale do Silício – que foi condenada a anos de prisão por fraudes eletrônicas e conspiração.
Charlie estava assistindo The Dropout, a série que conta a história de Elizabeth, e comentou que a história havia acontecido “ontem”, mas já havia se tornado um drama de TV.
Essa mesma dinâmica se repete agora. Há alguns dias, em 19 de junho, a imprensa mundial noticiou que um submarino de turismo que visitaria os destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico. A busca pelo submarino, em menos de uma semana, virou objeto de um documentário.

“A Joan é péssima” surge em um mundo onde essas ameaças já são uma realidade e roteiristas (além de vários outros profissionais) parecem não ser mais tão necessários.
Além disso, é um episódio que vem após cerca de quatro anos de espera pela nova temporada e, ainda, depois do enfrentamento de uma pandemia mundial. A premissa é muito simples: e se você estivesse escolhendo uma série para assistir e de repente se deparasse com uma que retrata a sua própria vida? E mais: e se a sua vida fosse filmada e televisionada sem você saber?
Essa é a experiência que Joan enfrenta ao chegar em casa após um dia bem ocupado: um dia em que teve que demitir desagradavelmente uma empregada, teve uma sessão igualmente desagradável na terapia e ainda beijou o ex-namorado.
Joan, que aparenta não estar em um bom momento da vida amorosa e profissional, reclama com a terapeuta que vive no piloto automático e gostaria de se sentir como a protagonista da sua própria história.
Não foi exatamente o dia que alguém gostaria de relembrar, mas no caso de Joan, sem que ela soubesse, foi televisionado e divulgado para todas as pessoas, incluindo seu ciclo social mais íntimo, pela empresa de streaming chamada Streamberry. Na série da empresa, Joan é dramatizada como uma pessoa péssima, lembrando, até mesmo na estética, a clássica vilã Cruella DeVil: a protagonista de sua história.
E por que “Joan é péssima” e não “Joan é ótima”? A escolha é justificada pela CEO da Streamberry, que afirma que o uso de uma personalidade negativa dá mais engajamento e audiência. Com a ascensão das fake news e do discurso de ódio nas redes sociais brasileiras, não há como se negar que esses conteúdos trazem muito engajamento e, ainda, lucro, para as plataformas.
Joan é interpretada na série da Streamberry por Salma Hayek, que é constituída por meio de computação gráfica e deepfakes. A série, como qualquer tecnologia, traz distorções, e os diálogos não são exatamente iguais aos que ocorreram na vida real. A partir de então, vários desastres vão acontecendo na vida de Joan: demissão, término de relacionamento, surtos e prisão à la Harley Quinn.

No decorrer do episódio, descobre-se que a Streamberry desenvolveu um computador quântico que consegue dramatizar e roteirizar a vida das pessoas, transformando-a em uma série.
A sociedade vem se movimentando nessa direção há alguns anos. Inicialmente, as redes sociais surgiram para mostrar conteúdo compartilhado por amigos e familiares, mas, aos poucos, priorizaram o direcionamento de conteúdos que trazem engajamento.
Isso também explica a recente alteração do Twitter que passou a mostrar o conteúdo não somente das pessoas que você segue, mas de pessoas cujo conteúdo pode te interessar. Um design feito para que o usuário não saia da rede social por horas.
E os holofotes não são somente assustadores, mas também desejados por algumas pessoas. O norte-americano Caveh Zahedi criou, em 2015, uma série chamada The Show About The Show sobre a sua própria vida, na qual registrava seu dia a dia e sua vida pessoal.
O episódio revela que a vida de Joan se transformou em uma série porque ela aceitou termos e condições que permitiam à Streamberry produzir tal conteúdo. Na série, as personagens consultam uma assessoria jurídica que informa que a contratação é válida, lícita e não há nada que possa ser feito.
A questão da aceitação dos termos e condições surge em um momento crítico para a Netflix, eis que é um argumento usualmente associado à cobrança adicional pelo compartilhamento de senhas, medida criticada pelos usuários.
O episódio não traz questionamentos éticos e morais oriundos dos advogados e dos órgãos competentes acerca da postura das empresas. Faz parte da distopia onde contratos como o de Joan são válidos e eficazes. Será que nosso consentimento é livre ou às vezes emitimos um consentimento forçado?
Sublinha-se que as políticas de privacidade, em regra, são difíceis de ler e não apoiam uma tomada de decisão racional, característica que é especialmente importante no contexto de uma sociedade em que o tempo é um valor cada vez mais escasso.
Estima-se que a leitura de uma política de privacidade padrão nos sítios eletrônicos mais comuns demande cerca de oito a 12 minutos de leitura. Ademais, as consequências de um tratamento indevido de dados, em regra, costumam ser abstratas e de difícil transmissão imediata.
A autogestão da privacidade, então, passa a enfrentar uma série de problemas cognitivos que se tornam uma dificuldade para a sua concretização, quais sejam: (1) as pessoas não leem as políticas de privacidade; (2) quando leem, não as entendem; (3) quando leem e entendem, muitas vezes não têm conhecimento prévio suficiente para fazer uma escolha informada; (4) quando leem, entendem e podem fazer uma escolha informada, sua escolha pode ser distorcida por várias dificuldades de tomada de decisão.
Existem limites ao consentimento dos termos e condições? Poderíamos suscitar a abusividade das cláusulas e a irrenunciabilidade dos direitos de personalidade? Desconfio que, no Brasil, nossos Tribunais Superiores felizmente não chancelariam um contrato como o de Joan.
Mas o que dizer de grandes reality shows que utilizam a vida de várias pessoas em um confinamento como conteúdo de entretenimento, submetendo os participantes, inclusive, a jogos de discórdia e resistência física? Às vezes Black Mirror nos mostra que a distopia não é tão distante assim.
Também se chama atenção para a questão das deepfakes. Na série, a atriz que cedeu a imagem para a computação gráfica da Joan começa a se incomodar com a associação de sua pessoa aos fatos retratados na série. Mas, pasmem, ela também havia aceitado os termos e condições e esbraveja com o advogado: “Você me vendeu!”.
A imagem e a identidade são fatores importantes para o desenvolvimento da personalidade, o que reforça o caráter de aprisionamento em que as personagens se encontram.
Salma Hayek argumenta com o advogado que teria sido convencida a aceitar os termos e condições achando que teria controle sobre a própria imagem: “mentira!”, bem como achando que as diferenças salariais de gênero (precarização do trabalho e assimetrias de gênero não passam despercebidas) seriam corrigidas: “mentira!”.
Em “A Era do Capitalismo de Vigilância”, Shoshana Zuboff discorda da frase frequentemente usada “se o serviço é gratuito, você é o produto”, preferindo dizer que “você não é o produto, você é a carcaça abandonada”. Isso porque a experiência humana passa a ser fonte de matéria-prima gratuita incorporada e sugada ao mercado.
Na vida real, a questão das deepfakes já está ficando pior: um homem foi acusado em Nova Iorque de criar e divulgar imagens pornográficas por meio de deepfakes, utilizando fotos antigas das redes sociais de várias mulheres. Ele ainda teria encorajado estranhos a assediá-las e ameaçá-las, enquanto compartilhava os números de telefone e endereço das vítimas.
A perda do controle sobre a própria imagem também é um aspecto relevante ressaltado no episódio. Essa questão pode surgir no conflito entre fotógrafos, especialmente paparazzi – que reivindicam os direitos autorais sobre as fotografias que produzem, às vezes até sem consentimento – e o detentor da imagem veiculada na fotografia. Isso sem falar na nociva pornografia de vingança.
A o valor da privacidade também é um ponto importante: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Se pararmos para pensar, aspectos íntimos que podem até parecer inofensivos podem acarretar grandes problemas na vida social quando são expostos.

Pontua-se, ainda, a questão da vigilância, chamando-se atenção para a coleta massiva de dados a que estamos submetidos. Isso porque a série da vida da Joan é criada a partir da coleta de seus dados, por meio dos dispositivos tecnológicos utilizados (smartphone, notebooks, etc.) que enviam as informações para o computador quântico da Streamberry, que as dramatiza e transforma em série.
Sem dúvidas, o seu celular te conhece melhor do que muita gente próxima a você e esse fator como matéria-prima e como vulnerabilidade é evidenciado no episódio.
Uma falha no episódio é o ritmo da narrativa. A transição entre a descoberta da série por Joan e o seu consequente incidente fisiológico na igreja parece um pouco apressada. Mas o episódio acerta em trazer um clima de opressão que se destaca, inclusive, nos ambientes fechados e na fotografia escura. O aprisionamento de Joan é constante, especialmente no final.
Na sequência, descobre-se que a Joan que conhecemos é apenas uma versão midiática e digital de outra pessoa, a verdadeira e real Joan, em uma ótima referência ao Show de Truman (1998) e Matrix (1999). O abalo na imagem e na privacidade pode destruir aspectos fundamentais da identidade humana, ao ponto de existências, inclusive, passarem a ser questionadas.
Joan e Salma Hayek se unem para destruir o computador que vem arruinando suas identidades e, nessa oportunidade, a CEO da Streamberry diz que se elas destruírem o computador elas destruirão “milhares de vidas virtuais” e terão “sangue” nas mãos. Isso reflete a digitalização da vida e a chegada do famigerado metaverso, onde vida real e virtual podem, em alguns aspectos, se confundir.
O episódio se encerra com a prisão domiciliar da verdadeira Joan pela destruição do computador da Streamberry. Assim como no começo do episódio, a personagem permanece aprisionada, dessa vez em outra perspectiva. Na última cena, em uma sessão de terapia, ela afirma estar bem e, finalmente, sendo a protagonista da sua própria história: a prisão física passou a ser mais confortável que a prisão identitária.
O episódio traz uma metalinguagem e uma crítica cínica que ataca a insaciável sede das empresas de streaming por conteúdos, ao passo em que assistimos a série nesse mesmo canal. As plataformas de streaming estão naturalmente coletando nossos dados, utilizando-se de algoritmos e tentando nos oferecer um conteúdo audiovisual que não vamos conseguir nos desligar: incluindo o que acabamos de assistir.
Apesar de o final ainda ser pessimista, especialmente porque as personagens são condenadas judicialmente e vivem monitoradas por uma tornozeleira eletrônica (mais um dispositivo de vigilância), há um certo tom de que “o pior já passou”, tornando o encerramento menos melancólico do que aqueles usualmente constatados em Black Mirror. Talvez porque, sob determinadas maneiras, nós já estamos vivendo uma realidade de melancolia.
Charlie Brooker declarou que tentou se livrar de todas as suas suposições acerca de Black Mirror nessa temporada, lançando algo diferente e incluindo mais comédia, principalmente porque “a distopia está chegando às nossas costas no momento presente”.
Para promover o episódio, a Netflix lançou o site youareawful.com, onde você pode inserir a sua foto e criar um pôster de como seria a sua série na Streamberry. Esse pôster poderá ser usado como propaganda de Black Mirror em outdoors pelo mundo: basta aceitar os termos e condições.
REFERÊNCIAS
MCDONALD, Alecia M; CRANOR, Lorrie Faith. The Cost of Reading Privacy Policies. Journal of Law and Policy for the Information Society, v. 4, p. 543-568, 2008 p. 544, p. 555 e p. 1888.
Gabriela Buarque é Advogada e pesquisadora. Mestra em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Coordenadora do GT de inteligência artificial e novas tecnologias no Laboratório de Políticas Públicas e Internet (LAPIN) e Secretária-Geral da Comissão de Inovação, Tecnologia e Proteção de Dados da OAB/AL.